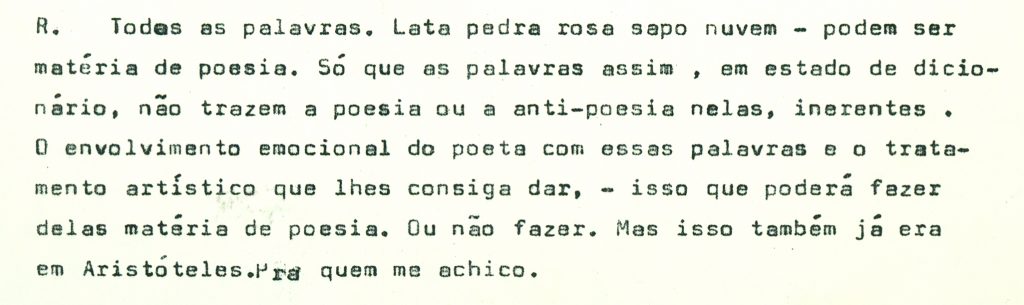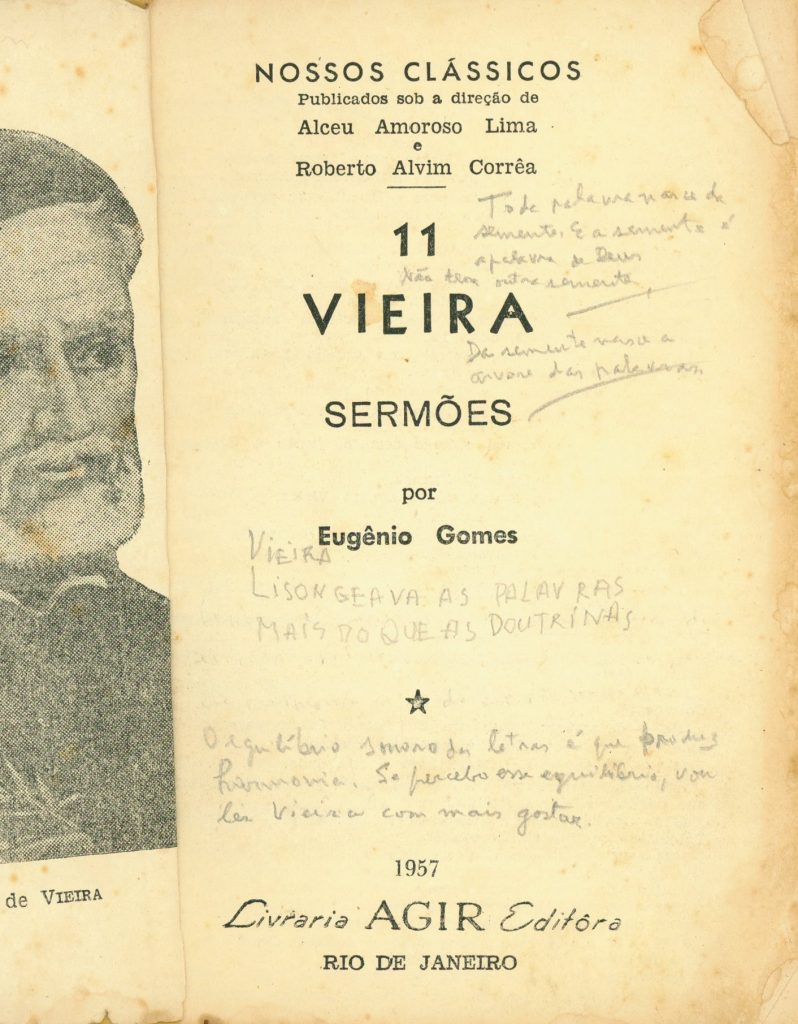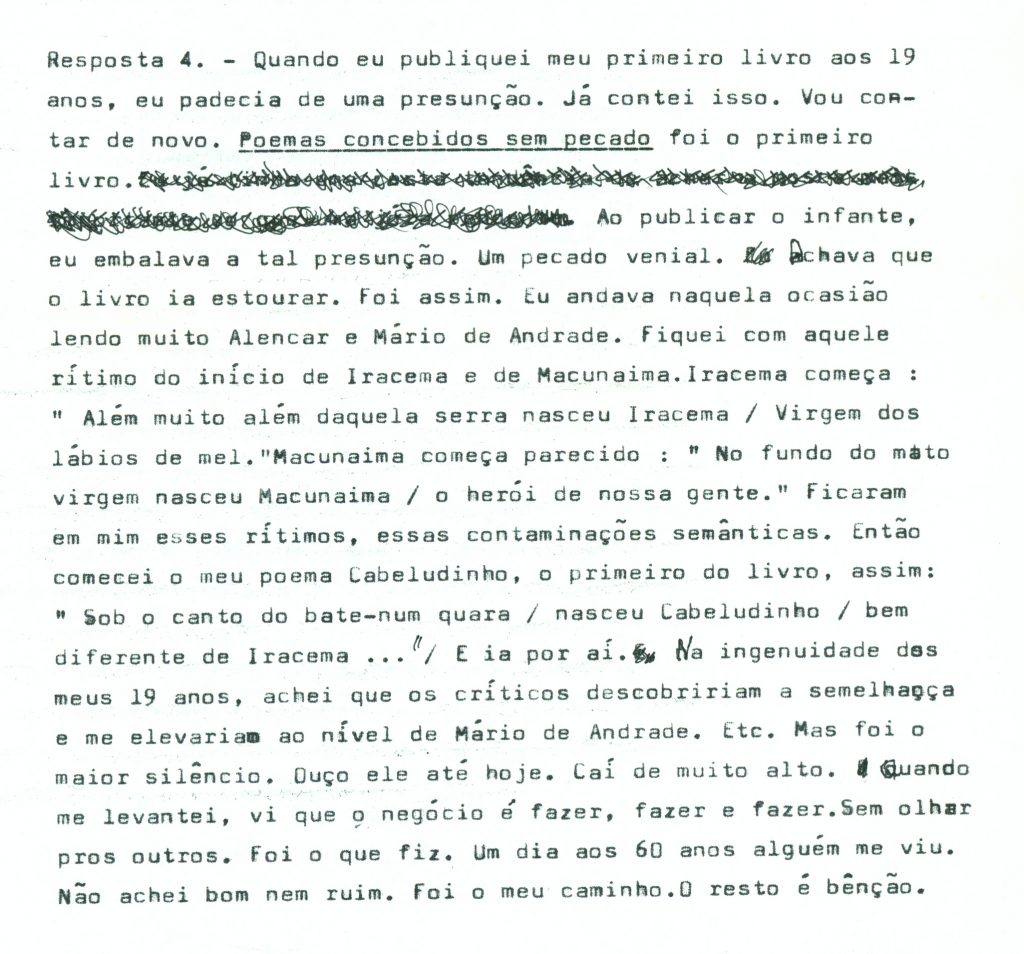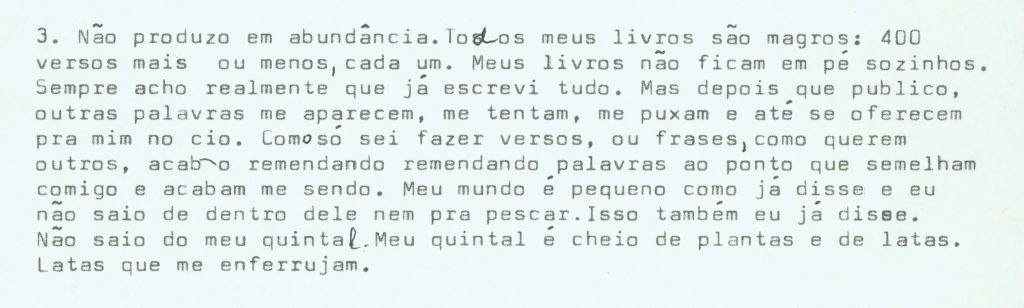Por Mia Couto
Lembro-me de, nas longas tardes da minha infância, ser levado para a Estação dos Caminhos de Ferro, onde o meu pai trabalhava. A ideia era eu usar uma das velhas secretárias do seu gabinete para, sob a sua vigilância, fazer os trabalhos da escola. A minha mãe acreditava ingenuamente que tudo correria bem debaixo do policiamento paterno. Enganava-se. O meu pai era um poeta. Ele estava, sim, com pressa de sair da clausura do gabinete, ansiava escapar daquela cinzenta existência de funcionário. Constantemente ele me interrompia a caligrafia: ainda demoras?
Assim que eu terminava, lá me levava ele a passear ao longo das linhas férreas, os olhos míopes catando pedrinhas brilhantes que tivessem tombado dos vagões de minérios. E era tal o seu empenho que, naquele momento, o meu pai se convertia num outro menino. Os nossos dedos se tocavam enquanto buscávamos brilhos no meio das cinzas e das poeiras do chão. Os nossos dedos eram asas.
Eu adorava aquela clandestina caçada. Porque ela me entregava uma criança onde antes existia um pai, me entregava um cúmplice onde era suposto haver um disciplinador. À nossa volta havia a guerra colonial, havia um mundo que desmoronava, e ali estavam duas criaturas empenhadas a catar brilhos entre os restos de lixo, como se desse serviço dependesse o destino do Universo. Sem saber, o meu pai me oferecia, naqueles momentos, a mais importante lição de poesia.
Nessas longínquas linhas férreas, em plena savana africana, eu preparava, sem o saber, o meu futuro encontro com o poeta Manoel de Barros. Porque não era apenas de poesia a lição que do meu pai recebia. Era de um sentimento do mundo que reencontrei, mais tarde, nos versos de Manoel de Barros. Quando me estreei na leitura da sua poesia, foi como se os meus dedos regressassem aos brilhantes inutensílios habitando a poeira do chão. Como se reinstalasse esse reino de beleza que nasce da inutilidade. Como se o sonho se impusesse como outra racionalidade.
Os livros de Manoel de Barros confirmavam que a poesia não mora apenas nos versos. A poesia mora no mundo. E esse mundo é feito de mundos diversos com idiomas ainda mais diversos. Nesse caleidoscópio de razões e ignorãças, o poeta semeou uma infância que escapa ao Tempo como o vento se esquiva da peneira. Essa infância não é apenas a de um olhar. É a infância das palavras, esse limbo onde tudo pode ainda ser tudo.
Fala-se muito da capacidade de criação de neologismos do poeta do Pantanal. Creio que o seu mérito é bem mais do que a conquista do novo vocábulo. Manoel revela toda uma língua que não há para nomear criaturas que existem numa dimensão que, sendo onírica, é tão real como qualquer outra. É sobretudo esse dom de revelação que me transporta para a minha infância, para essa busca infinita de brilhos na poeira.
É esse testemunho feito de emoção e gratidão que gostaria aqui de trazer. Anos atrás escrevi um poema dedicado ao poeta, chamado “Um abraço para Manoel”. Estas palavras permanecem atuais. Por isso, eu as reproduzo:
Dizem que entre nós
há oceanos e terras com peso de distância.
Talvez.
Quem sabe de certezas não é o poeta.
O mundo que é nosso
é sempre tão pequeno e tão infinito
que só cabe em olhar de menino.
Contra essa distância
tu me deste uma sabedora desgeografia
e engravidando a palavra africana
de tudo me tornei tão vizinho
que ganhei intimidades com o teu chão brasileiro.
E é sempre a mesma Terra,
a mesma poeira nos versos,
a mesma peneira separando os grãos,
a mesma infância nos devolvendo a palavra,
a mesma palavra devolvendo a infância.
E assim,
sem lonjura,
na mesma água
riscaremos a palavra
que incendeia a nuvem.
Maputo, janeiro de 2019
Mia Couto é escritor, biólogo e jornalista. Publicou mais de 30 livros, entre romances e coletâneas de contos e de poemas.